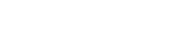A educação transforma.
A MultiRio impulsiona.
A MultiRio impulsiona.
Educação que conecta e transforma
Estamos à frente da inovação educacional, integrando tecnologia e comunicação à prática pedagógica. Como empresa pública, desenvolvemos iniciativas e estratégias que tornam o aprendizado mais dinâmico, com foco na educação midiática e no desenvolvimento socioemocional. Com novas linguagens e formatos, fortalecemos o vínculo entre educação e sociedade formando cidadãos críticos e participativos.
Conheça a MultiRio

Pensando a Educação
A educação está sempre em movimento, e nós seguimos junto com ela, acompanhando as transformações do mundo e os desafios do nosso tempo. Neste espaço, reunimos reflexões e análises sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia e impactam quem ensina, aprende e constrói a educação conosco.
Leia nossos artigos
Destaque
MultiRio lança hub de educação, cultura e tecnologia
No Rio, MultiRio lança documentário que revisita 20 anos da Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes
MultiRio marca presença no Festival LED 2025

A iniciativa visa unir gestores públicos e pesquisadores para o desenvolvimento de práticas conectadas às realidades locais.
Acesse

O evento, apelidado de forma bem-humorada de "A Cúpula na cúpula", aconteceu na Cúpula Carl Sagan do Planetário do Rio.
Acesse

Papel, caneta e um celular na mão. Assim estudantes da ANDAR participaram do Festival LED 2025 como jovens repórteres.
Acesse
Conteúdo para todos
Nossas plataformas

Notícias
Alunas da ANDAR cobrem a Cúpula do BRICS 2025 no Rio
Durante cobertura oficial da Cúpula do BRICS, estudantes da ANDAR entrevistaram ministros e jornalistas.
10/07/2025

Notícias
MultiRio marca presença no Festival LED 2025
Papel, caneta e um celular na mão. Assim estudantes da ANDAR participaram do Festival LED 2025 como jovens repórteres.
27/06/2025

Vídeo
Escola dos afetos, autocuidado e diversidade | Roda 3
O encontro trata de questões como acolhimento, pertencimento, autocuidado e competências socioemocionais.

Vídeo
Imaginando outras formas de estar no mundo: bem viver, aprendizagens e desenvolvimento integral | Mesa 3
Imaginar outras formas de viver nos convida a pensar, nos termos em que pensa o indígena Ailton Krenak, que o futuro é ancestral.