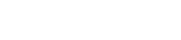Filmes com temática indígena vêm sendo produzidos no Brasil desde a década de 1910. Entre as primeiras películas exibidas comercialmente estão os documentários dirigidos pelo Major Luiz Thomaz Reis, chefe de Fotografia e Cinematografia da Comissão Rondon, a exemplo de Os sertões de Mato Grosso (1912), Expedição Roosevelt (1914) e Rituais e Festas Bororo (1916). A filmografia sobre a temática não é pequena. Uma extensa lista poderia ser citada, a exemplo de Iracema (1919), No rastro do Eldorado (1925), Descobrimento do Brasil (1937), Casei-me com um Xavante (1955), Como era gostoso o meu francês (1971), O Guarani (1916, 1929 e 1995), Hans Staden (2000)...
Como qualquer película, essa filmografia traz o olhar de seus realizadores. Segundo artigo publicado na Revista Polis, nº 38, escrito por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), tais filmes carregam a visão da sociedade urbana ocidental e etnocêntrica, tendo, como resultado, à exceção de algumas obras, narrativas estereotipadas que tratam os povos indígenas brasileiros como “primitivos, selvagens, ingênuos, infantis, preguiçosos e exóticos”. Além disso, costumam situá-los no passado histórico e sem particularidades individuais e coletivas, como se todas as etnias fossem uma coisa só.
De caça a caçador

Muito provavelmente, é por conta das representações estereotipadas e alegóricas que, em entrevista à MultiRio, uma das primeiras observações feitas pelo professor e realizador indígena Alberto Álvares, da etnia Guarani Ñadeva e nascido no Mato Grosso, foi: “Sou contra filmarem a gente como se pertencêssemos ao passado, como se estivéssemos parados no tempo e não conseguíssemos acompanhar o mundo moderno”.
Alberto Álvares é o nome que consta na certidão de nascimento de Tupãra’y. Seu contato com o cinema começou em 2008, quando morava na aldeia Pirapiaçu, no Espírito Santo, onde foi rodado o filme Como a noite apareceu, baseado em uma lenda tupi. A partir daí, passou a se interessar pela sétima arte e um ancião de sua comunidade, habituado a aparecer em filmes feitos por diretores não indígenas, lhe passou várias informações sobre o audiovisual.
Para Álvaro, fazer cinema é contribuir para a preservação da memória e para o repasse dos saberes guaranis às futuras gerações. Seus filmes são uma espécie de registro histórico, de “escrita” da tradição, uma vez que os indígenas educam e transmitem seus conhecimentos pela oralidade e que, segundo ele mesmo, são fáceis de serem esquecidos. Não é por acaso que seu principal público-alvo está nas aldeias, muito embora a difusão de sua cultura, para o reconhecimento e o respeito pela sociedade hegemônica, também seja um aspecto importante.
O longa-metragem Os verdadeiros líderes espirituais, por exemplo, traz à tona a história de dois anciãos – Alcindo Moreira, de 104 anos, e sua esposa Rosa Poty-Dja – que guardam os saberes sobre os costumes, mitos e rituais da Aldeia Yynn Moroti Werá, em Santa Catarina. Um dos personagens da aldeia, ouvido no filme, inclusive compara os anciãos a bibliotecas, pois todo o conhecimento que têm é aprendido no convívio com eles.

A dificuldade de manter a tradição e a cultura indígena também permeia outras etnias. Essa questão se evidencia até mesmo em documentários como As hiper mulheres – produzido pelo projeto Vídeo nas Aldeias (VNA) e dirigido por Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro –, em que o principal objeto de registro é o Jamurikumalu, o maior ritual feminino do Alto Xingu. A narrativa do filme se inicia quando um velho, temendo que sua esposa morra, pede que o ritual seja realizado, para que ela possa cantar pela última vez. Mas Kanu, a única mulher da aldeia que sabe cantar todas as músicas, está muito doente.
O registro da própria cultura também tem um viés político, de resistência ao avanço contínuo da sociedade hegemônica contra suas terras e formas de existir. Em seu trabalho de conclusão do curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas, feito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Alberto Álvares escreveu: “O cinema Guarani é uma ferramenta importante para as comunidades contra a expulsão e exploração de terra, na luta pelo direito, reconhecimento e valorização do nosso modo de viver. A mídia, na maioria das vezes, nos projeta de forma estereotipada e romantizada. Porém, quando invertemos o ponto de vista da câmera e produzimos nosso próprio registro, transmitimos ao mundo nosso olhar. Deixamos de ser ‘caça’, e nos tornamos caçadores”.
Vídeo nas Aldeias

Após anos de extenso trabalho de campo e de ida aos arquivos dos museus, com o objetivo de constituir um banco de informações sobre os indígenas do país, o antropólogo, fotógrafo e cineasta franco-brasileiro Vincent Carelli deu início ao projeto Vídeo nas Aldeias (VNA). “Percebi que esses registros e acervos faziam parte de um processo de expropriação. [...] Era um movimento de mão única. Raramente retornavam às aldeias os produtos e registros destes trabalhos. Então, eu sentia isso da perspectiva da aldeia e todo o meu movimento seria o de inverter essa direção. As coisas tinham que voltar”, relata Carelli, em conversa com pesquisadores da Escola de Comunicação da UFRJ, publicada na Revista Eco Pós, nº 2.
O projeto começou a ser posto em prática em 1987, ano tido como o marco inaugural do cinema indígena no Brasil. No início, o VNA apenas disponibilizava as imagens coletadas na pesquisa, mas logo depois, adquiriu uma câmara VHS e um monitor de TV. Carelli perguntava à aldeia o que gostaria que fosse filmado, reunindo todos para assistir às imagens, imediatamente após as gravações. Os primeiros a se verem no vídeo foram os Nambiquara, que tinham sido contatados pelo Marechal Rondon, em 1913, e estudados pelo renomado antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, na década de 1930. Segundo Carelli, a reação deles foi intensa e catártica, revelando que o projeto tinha grande potencial.
Cerca de dez anos depois, o VNA deu início à formação de cineastas, com cursos – feitos na própria aldeia – de elaboração de roteiro, captação de imagens e edição. Com isso, os indígenas foram conquistando autonomia para produzir filmes da maneira como desejam ser vistos, assumindo, de certa maneira, uma função que costumava pertencer ao etnógrafo. Mas não apenas isso. Também fundaram coletivos de cinema e começaram a participar de festivais e eventos relacionados ao tema, de forma que suas produções passaram a ser compartilhadas com outros povos indígenas, assim como exibidas para o público em geral.

Numa das oficinas realizadas pelo VNA, na aldeia Kuikuro, em 2004, foi gravado um dos mais laureados filmes indígenas. Ganhou, entre outros prêmios, o de Melhor Vídeo (II Festival de Jovens Realizadores de Audiovisual do Mercosul) e de Melhor Documentário (Associação Brasileira de Documentaristas).
Trata-se de O dia em que a lua menstruou, dirigido por TaKumã e Mariká Kuikuro. A obra foi filmada durante um eclipse da lua, ou melhor, durante o dia em que a lua menstruou e desencadeou uma série de rituais para acordar o mundo novamente.
Tensões entre passado e presente
A partir da experiência do VNA, outras iniciativas de capacitação dos indígenas na área do audiovisual começaram a pipocar em pontos diferentes do país, principalmente nas universidades, como é o caso da Ufam, campus de Parintins. No artigo publicado sobre as oficinas realizadas na Casa de Trânsito Sateré-Mawé, os jovens da etnia expressaram, timidamente, a vontade de filmar o Ritual da Tucandeira.
Como eles não conseguiam justificar o motivo da escolha, nem falar se havia algum aspecto do ritual que gostariam de enfatizar, os realizadores do curso decidiram indagar aos mais velhos e militantes da aldeia. Estes não titubearam em proferir argumentos sobre a necessidade de construção de uma memória do povo e de fortalecimento da língua Sateré-Mawé, idioma no qual o filme deveria ser gravado, e, principalmente, sobre a importância da retomada do ritual, já não mais praticado na comunidade.

A luta contra o apagamento da existência da etnia é comum ao cinema dos vários povos indígenas, embora, cada um tenha a sua própria estratégia. Alberto Álvares, por exemplo, é contra filmar os guaranis de cocar, tanga e corpo pintado, porque, desterritorializados, já não andam mais desse jeito, a não ser em ocasiões específicas, na casa de reza das aldeias.
Para ele, gravá-los paramentados – e não com as roupas que usam no dia a dia – seria reforçar a imagem de que os indígenas pertencem ao passado histórico e, por consequência, por não se vestirem com a indumentária típica (aquela presente no imaginário dos brasileiros), não seriam mais indígenas, nem fariam jus aos direitos dos indígenas. Alberto Álvares deixa claro, contudo, que fala do ponto de vista do Guarani e não dos demais povos, já que cada etnia tem uma trajetória e uma história distinta.
Como a quase totalidade das películas feitas por indígenas é documental, percebe-se, pelo conjunto das obras, um pano de fundo de trajetórias históricas diversas perante o avanço do colonizador. E mais! As várias mostras e festivais que vêm sendo realizadas por instituições como o Sesc, a Unesco, as universidades e as cinematecas permitem que segmentos da sociedade brasileira compreendam melhor a cultura indígena e depurem sua visão diante das questões que envolvem esses povos. Aliás, os filmes indígenas têm conquistado cada vez mais espaço nos festivais de cinema do país.