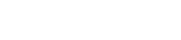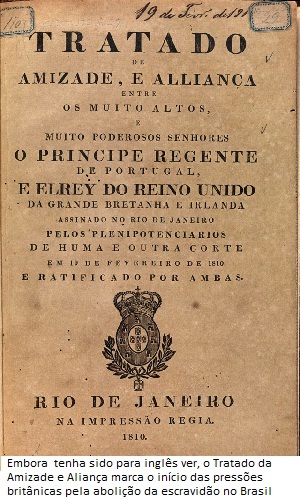 “Isso é coisa para inglês ver!” A expressão, muito usada pelos brasileiros, começou a ser falada em nosso país, segundo vários historiadores, na primeira metade do século XIX. Trata-se, na verdade, de uma figura de linguagem – dita para exprimir um ato ou uma promessa “de mentirinha”, jamais cumpridos na prática –, que nasceu da observação crítica das leis e dos vários acordos internacionais firmados pelo Brasil que envolviam o fim do tráfico negreiro.
“Isso é coisa para inglês ver!” A expressão, muito usada pelos brasileiros, começou a ser falada em nosso país, segundo vários historiadores, na primeira metade do século XIX. Trata-se, na verdade, de uma figura de linguagem – dita para exprimir um ato ou uma promessa “de mentirinha”, jamais cumpridos na prática –, que nasceu da observação crítica das leis e dos vários acordos internacionais firmados pelo Brasil que envolviam o fim do tráfico negreiro.
A história desse dito popular começou a ser desenhada em 1810, com o primeiro ato formal de Portugal contra o sistema escravista. Pressionado pela Inglaterra, que queria o fim do comércio intercontinental de escravos, o príncipe regente dom João VI assinou, aqui no Rio de Janeiro, um tratado de cooperação para reduzir, gradualmente, o tráfico de negros africanos. Mas o acordo – como tantos outros que viriam – era apenas uma manobra diplomática para agradar os britânicos, de quem o Reino de Portugal e Algarves tanto dependia na época. A intenção verdadeira, contudo, estava longe de ser a mesma dos ingleses.
O malabarismo diplomático de d. João VI revelou-se, com nitidez, na forma como ele lidou com os reinos africanos da Costa da Mina, que enviaram embaixadas para o Brasil depois do novo acordo firmado com sua majestade britânica em 1815, proibindo os vassalos da coroa portuguesa de comercializarem escravos em qualquer lugar da África ao norte da linha do Equador. Para ludibriar os ingleses e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção do comércio de escravos, a estratégia utilizada foi reter os embaixadores do Daomé e de Ardra na cidade de Salvador, onde haviam parado para fazer escala. Longe dos olhares da Inglaterra e de seus vários representantes no Rio de Janeiro, dom João pôde, assim, trocar cartas, presentes, galanterias e renovar o compromisso com o tráfico negreiro.
As leis“para inglês ver” perduraram até 1851. Entre elas estava o tratado, assinado por dom Pedro I e o rei da Inglaterra, tornando ilegal todo o tráfico negreiro com o Brasil a partir de 1831. Os olhos das autoridades locais continuaram, contudo, fechados para o contrabando de escravos até o momento em que o Brasil já não tinha mais condições de manter a política de fachada. É que, partir de 1845, com a aprovação do Slave Trade Suppression Act, conhecido no Brasil como Lei Bill Aberdeen, os britânicos começaram a apreender, unilateralmente, todos os navios negreiros. Desde então, até 1851, quando foi instituída a Lei Eusébio de Queirós, de abolição do tráfico negreiro, 368 embarcações brasileiras que faziam comércio de escravos foram apreendidas e destruídas pela Inglaterra.
Resistência negra e novos pesonagens
Desde o início da escravidão dos africanos no Brasil, há notícias sobre várias formas de rebeldia dos negros contra os maus-tratos, a exploração, a humilhação e a condição de cativo. Ainda no século XVI, nos primórdios do tráfico negreiro, registros históricos indicam que, aqui no Rio de Janeiro – que se tornaria a cidade mais escravista das Américas poucas décadas depois –, escravos fugidos fundaram um quilombo nas matas do Desterro (atual Morro de Santa Teresa) e protagonizaram vários momentos de tensão com o centro urbano que se formava às margens da Baía de Guanabara.
Na senzala não era diferente: uns não cumpriam as ordens que recebiam, alguns fugiam, outros se suicidavam ou assassinavam seus senhores e feitores... Aliás, não são poucos os depoimentos de escravos apreendidos que revelavam às forças policiais que praticavam atos ilícitos por acharem melhor a condição de vida na prisão do que no cativeiro.
Apesar das tensões entre senzala e casa grande, entre quilombos e sociedade, entre portugueses e britânicos, os negros tiveram que aguardar até o fim do século XIX para verem o fim da escravidão no Brasil, último país do mundo a libertá-los. Mas, com o tempo, a resistência dos cativos e as pressões inglesas acabaram impondo à sociedade escravista novos mecanismos para sobreviver diante das pressões abolicionistas.
 Um dos arranjos dessa conjuntura foi a expansão da figura do escravo de ganho. Desde a chegada da corte, havia aumentado exponencialmente, no Rio de Janeiro, a demanda por serviços de rua – como o de quitanda, abastecimento d’água etc. A autonomia desses escravos, que precisavam circular pela cidade, ampliou-se cada vez mais, o que, aliás, interessava não só a eles, mas também a muitos senhores, especialmente os que moravam longe da região central. Vários cativos de ganho passaram, assim, a viver em cortiços, tendo que pagar pela moradia e, ainda, que repassar a maior parte dos ganhos para seus senhores.
Um dos arranjos dessa conjuntura foi a expansão da figura do escravo de ganho. Desde a chegada da corte, havia aumentado exponencialmente, no Rio de Janeiro, a demanda por serviços de rua – como o de quitanda, abastecimento d’água etc. A autonomia desses escravos, que precisavam circular pela cidade, ampliou-se cada vez mais, o que, aliás, interessava não só a eles, mas também a muitos senhores, especialmente os que moravam longe da região central. Vários cativos de ganho passaram, assim, a viver em cortiços, tendo que pagar pela moradia e, ainda, que repassar a maior parte dos ganhos para seus senhores.
Outro personagem que surgiu no século XIX foi o “africano livre”, figura jurídica oriunda de um alvará de 1818 – mais um “para inglês ver” –, que, além de impor penas para os traficantes de escravos, estabelecia que os negros importados ilegalmente seriam considerados livres. Por “não ser justo que ficassem abandonados em terra estrangeira”, deveriam ficar sob a tutela da justiça, que os encaminharia para trabalhar compulsoriamente no serviço público ou em estabelecimentos particulares, durante 14 anos, período em que os proventos (nem sempre recebidos) ficariam sob os cuidados do Estado.
Mas a proteção oferecida era apenas mais uma forma de manutenção da escravidão, segundo Enidelce Bertin, professora de História da PUC-SP. Além de ser uma maneira de manter os negros tutelados, resultou em um bom negócio tanto para o Estado, que os utilizava no serviço público (especialmente nas tarefas mais pesadas), como para os particulares que os alugavam sem precisar desembolsar os valores referentes à compra de um cativo. O fato é que também era muito raro ver um “africano livre” efetivamente emancipado, mesmo após os 14 anos de trabalho compulsório, devido às dificuldades para reunir a documentação exigida. A maioria precisou esperar até 1864, quando um decreto do imperador dom Pedro II concedeu-lhes a emancipação – mais um ato “para inglês ver”, já que isso não os livrou dos desvantajosos contratos de trabalho nem do controle a que continuaram submetidos.