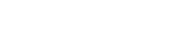Nos debates sobre as interpretações do Brasil e nas discussões quanto à identidade do Rio de Janeiro, após deixar de ser capital federal, um olhar é lançado em direção às favelas. As palavras do professor Márcio Moraes Valença refletem o tema: “A aparência de eterno canteiro de obras (...) mantém-se nas favelas. Ruas estreitas e desordenadas lembram uma cidade medieval, tortuosa e confusa, dotada de desenho que não obedece ao imperativo do automóvel”. Para a historiadora Lúcia Lippi Oliveira, é impossível falar de urbanismo sem incluir esse tipo de aglomeração.
Referir-se a favelas é reportar ao final do século XIX, especialmente quando o foco é o Rio de Janeiro republicano. Para a antropóloga Alba Zaluar, as comunidades transformaram-se em uma “marca da capital federal, em decorrência (não intencional) das tentativas dos republicanos radicais e dos teóricos do embranquecimento (...) para torná-la uma cidade europeia”. Nessa época, os que se dedicaram a detalhar a cena urbana e seus personagens populares voltaram suas atenções para os cortiços como locus da pobreza, espaço onde moravam trabalhadores e onde também se concentravam, em número considerável, os que eram entendidos como classe perigosa – os desocupados. O cortiço era percebido como “verdadeiro ‘inferno social’ (...) tido como antro não apenas da vagabundagem e do crime, mas também das epidemias, constituindo uma ameaça às ordens moral e social”, segundo registra a socióloga Licia Valladares.
Estudos indicam que essa forma de moradia correspondeu à semente da favela, ora pela presença de moradias humildes (casebres e barracões), ora pela ocupação dos morros próximos ao centro da cidade, quando, nos primeiros tempos do século XX, um movimento civilizatório tomava conta do ambiente político-cultural brasileiro, desdobrando-se em campanhas a favor da modernização do país. As intervenções urbanas realizadas durante a administração do prefeito Francisco Pereira Passos (1836-1913), em meio à política que derrubava os cortiços, resultou na movimentação da população carente em direção às áreas dos morros, dos charcos e àquelas ainda não ocupadas no entorno da capital federal. Muitos jornalistas e escritores da época registraram que a pobreza não mais se concentrava nos cortiços.
No final da década de 1900, o Morro da Favela passou a ser considerado o lugar mais perigoso da cidade, reforçando a fama negativa conquistada por seus habitantes depois da participação, em 1904, na Revolta da Vacina. Numa crônica publicada em 1908, citada pelo historiador Américo Freire, o escritor e jornalista Olavo Bilac (1865-1918) observa: “Perco-me muitas vezes, por dever profissional, visitando escolas no alto destes morros (...) do Rio de Janeiro – Conceição, Pinto, Livramento, (...) de ladeiras íngremes, em que se acastelam e equilibram a custo casinhas tristes, de fachadas roídas e janelas tortas (...). É uma cidade à parte”. Nesse momento, nos textos que publicava na Gazeta de Notícias, Bilac reforçava sua crença de que os brasileiros “deveriam se envergonhar” por terem, no alvorecer republicano, a mesma capital que D. João VI em 1808.
Na edição de 5 de julho de 1909 do jornal Correio da Manhã, havia a afirmação de que a favela era aldeia do mal e da morte, onde a população não tem nem direitos nem deveres em face da lei, e a polícia, por sua vez, não cogita vigilância alguma sobre ela. No período correspondente à chamada Primeira República, a grande imprensa teve um papel especial ao denunciar o aparecimento de casebres e barracões, apontando o adensamento populacional e pedindo providências por parte dos governos.
Na década de 1920, médicos e engenheiros preocupados com o futuro do Rio e de seus habitantes, contando com a participação da imprensa, abriram um debate em busca de soluções para o local visto pelas instituições e pelos administradores como um espaço da desordem, por excelência. O plano diretor de remodelação e embelezamento da cidade, concluído em 1930, proposto pelo urbanista francês Alfred Hubert Donat Agache (1875-1939), já denunciava a existência e a permanência das favelas. Propunha, entre outros pontos, a transferência dos seus moradores, que “criavam problemas sob o ponto de vista de ordem social, da segurança e da higiene geral da cidade, sem falar da estética”.
Em 1937, o Código de Obras, ao proibir a criação de novas comunidades, reconheceu sua existência, dispondo-se a administrar e a controlar seu crescimento. A primeira política formal de governo referente à questão não surgiu, segundo o sociólogo Marcelo Tadeu Baumann Burgos, de um postulado dos seus habitantes, “mas do incômodo que causava à urbanidade da cidade, o que explica o sentido do programa de constituição dos parques proletários, que tem por finalidade, acima de tudo, resolver o problema das condições insalubres das franjas do centro da cidade”.
No início dos anos 1940, surgiriam os parques proletários, apresentados como um esboço de ação governamental para fazer frente ao problema das favelas do Rio. A proposta era a de promover a transferência dos habitantes daquelas localidades para alojamentos provisórios próximos dos locais onde seriam erguidas as construções definitivas – em terrenos estatais, preferencialmente nos subúrbios da cidade. Com o tempo, os parques abrigaram um número crescente de pessoas, repetindo os processos de crescimento das favelas e de saturação das infraestruturas instaladas. Foram reconhecidos no Censo de 1948, realizado pela Prefeitura, e no de 1950, pelo IBGE, como favelas. Eram, entretanto, segundo a economista Rute Imanishi Rodrigues, “‘favelas oficiais’, pois a Prefeitura destinava funcionários e verbas esporádicas para a reforma das instalações dos parques até meados da década de 1950, de acordo com registros do Diário Oficial da União”.