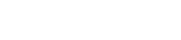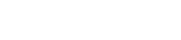O intenso ir e vir dos dias que precederam a viagem da família real para sua possessão americana, citado pela antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, foi registrado no diário pessoal do tenente irlandês Thomas O’Neil, que compunha a esquadra inglesa: “O pânico e o desespero tomaram conta da população, e muitos homens, mulheres e crianças tentaram embarcar nas galeotas até algum navio”. Acrescentava que “muitas senhoras de distinção meteram-se na água, na esperança de alcançar algum bote, pagando algumas com a própria vida”.
A população de Lisboa, desolada e surpresa, concluía que seria deixada à própria sorte pelo príncipe regente e pelas demais autoridades, como ministros, conselheiros, juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro, patentes do Exército e da Marinha e membros do alto clero. Outros súditos reais, não relacionados oficialmente para serem embarcados, receberam de D. João (1767-1826) autorização para que viajassem. Estavam livres se desejassem acompanhá-lo utilizando navios particulares, pois não havia lugares na esquadra inglesa responsável pela travessia do Oceano Atlântico. Querer, ao contrário do que diz o ditado popular, não é poder. Para os desprovidos de recursos, a autorização de nada serviu.
Os portugueses que, sem opção, permaneceriam no Reino, sentiam-se desamparados, sem saber como enfrentariam o exército de Napoleão Bonaparte (1769-1819), que se aproximava. Segundo o historiador Ilmar Rohloff de Mattos, Lisboa estava um caos e, assim, “Junot e sua tropa, apesar de bastante desfalcada, não tiveram problema para dominar a cidade, cuja população estava atordoada com o que consideravam uma fuga vergonhosa”.
A hora era de adeus para muitos. Rumo ao Rio de Janeiro, abandonavam a segurança da antiga casa. Nessa mesma hora, para outros, que permaneceriam na terra natal, o destino era tão incerto como o daqueles que partiam. Contudo, todos tiveram que enfrentar o que estava por vir. Sentir diferente era, possivelmente, estar distraído.