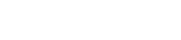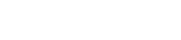Há cinco séculos, no início de março de 1500, partiu de Lisboa, a principal cidade do Reino português, uma expedição de 13 navios. Ia em direção a Calicute, nas Índias. Era a maior e mais poderosa esquadra que saía de Portugal. Dela faziam parte 1.200 homens: famosos e experientes navegadores e marinheiros desconhecidos. Eram nobres e plebeus, mercadores e religiosos, degredados e grumetes. Parecia que todos os portugueses estavam nas embarcações que enfrentariam, mais uma vez, o Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico.
A expedição dava prosseguimento às navegações portuguesas. Uma aventura que, no século XV, distinguira Portugal por mobilizar muitos homens, exigir inúmeros conhecimentos técnicos e requerer infindáveis recursos financeiros. Homens, técnicas e capitais em tão grande quantidade que somente a Coroa, isto é, o governo do Reino português, possuía condições de reunir ou conseguir. Uma aventura que abria a possibilidade de obter riquezas: marfim, terras, cereais, produtos tintoriais, tecidos de luxo, especiarias e escravos. Uma aventura que também permitia a propagação da fé cristã, convertendo pagãos e combatendo infiéis. Uma aventura marítima que atraía e, ao mesmo tempo, enchia de medo tanto os que seguiam nos navios quanto os que permaneciam em terra.
O rei Dom Manuel I, que a seu nome acrescentara o título de O Venturoso, confiou o comando da esquadra a Pedro Álvares Cabral, Alcaide-Mor de Azurara e Senhor de Belmonte. Dom Manuel esperava concluir tratados comerciais com o governante de Calicute, o samorim, para ter, com exclusividade, acesso aos produtos orientais. Sua intenção era, também, que fossem criadas condições favoráveis à pregação da religião cristã por missionários franciscanos. A missão da frota de Cabral reafirmava, assim, os dois sentidos orientadores da aventura das navegações portuguesas: o mercantil e o religioso.
E, ao que parece, Dom Manuel esperava, ainda, com essa expedição consolidar o monopólio do Reino sobre a Rota do Cabo, o caminho inteiramente marítimo até as Índias, aberto por Vasco da Gama em 1498. Era preciso garantir a posse daquelas terras do litoral atlântico da América do Sul. Terras que, de direito, pertenciam a Portugal desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494.
Quarenta e cinco dias após a partida, na tarde de 22 de abril de 1500, um grande monte "mui alto e redondo" foi avistado e, logo em seguida, "terra chã com grandes arvoredos", chamada de Ilha de Vera Cruz pelo capitão, conforme o relato do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal.
Em Vera Cruz os portugueses permaneceram alguns dias, entrando em contato com seus habitantes. Em 26 de abril, frei Henrique de Coimbra, o chefe dos franciscanos, celebrou uma missa observada, a distância, por homens "pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto", na descrição de Caminha.
Os portugueses não puderam com eles conversar, porque nem mesmo o judeu Gaspar – o intérprete da frota – conhecia a língua que falavam. Nesse momento de encontro, conhecido pelo nome de descobrimento, a comunicação entre as culturas européia e ameríndia tornou-se possível, somente, por meio de gestos. Duas culturas apenas se tocavam, abrindo margem às interpretações que ressaltavam as diferenças entre elas. Assim, quando um dos nativos "fitou o colar do capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar", Caminha concluiu que era "como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra".