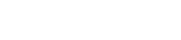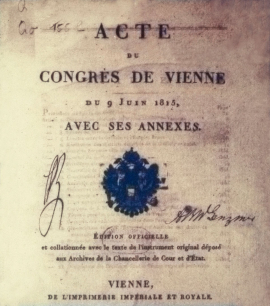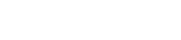Segundo citação da antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, um contemporâneo dos tempos da vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, registrou que a cidade, antes da chegada de D. João (1767-1826), era sujeita a “meteoros elétricos (...), sobretudo no verão, e notavam-se (...) mudanças atmosféricas. O tempo toldava-se, e depois (...) de relâmpagos maiores (...), apareciam trovões mais ou menos fortes e prolongados. (...) Pois bem, desde 1812 em diante e até hoje, estes fenômenos meteóricos têm ido pouco a pouco a escassear-se”.
Aqueles que, eventualmente, acreditavam que a presença da realeza poderia interferir nos fenômenos da natureza tropical da cidade certamente exageravam. Ao atribuírem esses poderes extraordinários, carregavam nas cores das ideias construídas em torno dos monarcas ungidos pela escolha divina. Levavam ao extremo a teoria do absolutismo político europeu.
Mas se o governante, literalmente, não fazia chover e muito menos relampejar, na Europa eventos concretos e transformadores ressoavam, desdobrando-se, no Brasil, em consequências. Se, por um lado, o estrondo dos canhões silenciara no Velho Continente (Europa), com a derrota em 1814 de Napoleão Bonaparte (1769-1821), por outro, encerrava, consequentemente, a necessidade de a corte lusitana permanecer nas terras coloniais. O Congresso de Viena (1815) determinava, entre outros pontos, desejando restabelecer a antiga ordem europeia, que as monarquias depostas pelo governante francês reassumissem seus tronos. Se a sede reconhecida do governo luso era Lisboa, a situação do regente D. João no Rio de Janeiro era ilegítima. Então, seu retorno a Portugal fazia-se necessário.
Mas ele não pensava assim. Bem adaptado à cidade, como grande parte dos súditos que o acompanharam, não demonstrava intenção de sair da América. Ou, então, de regressar tão cedo. Esse impasse foi contornado com a promulgação da Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815.
Tal medida causou enorme alegria na cidade do Rio de Janeiro, mas provocou uma também enorme insatisfação em Portugal, que se via equiparado à sua colônia e, mais ainda, ameaçado de perdê-la. Para o historiador Bóris Fausto, os “atritos entre a gente da metrópole e da colônia não desapareceram só (...) porque, por algum tempo, a colônia se vestiu de metrópole. Ao transferir-se (...), a Coroa não deixou de ser portuguesa e favorecer os interesses dos portugueses no Brasil”. O historiador Sérgio Buarque de Holanda considerou que “a elevação da antiga colônia à dignidade de reino foi, por outro lado, o reconhecimento de uma situação de fato. (...) um ato político no sentido amplo (...), além de assegurar a administração tranquila, permitia que se forjassem planos imperialistas na direção do Prata e mesmo se reavivassem sonhos de uma amplitude continental – havia de prender a Coroa ao Brasil, e o Brasil à monarquia”.
Festejos à parte, as reclamações prosseguiam em insistentes críticas ao esbanjamento, à arrogância dos portugueses e aos privilégios que não paravam de ser concedidos aos amigos do rei. Pelas ruas, pelas vielas, nas proximidades do Paço Real, no Centro e nos arrabaldes da cidade, o descontentamento crescia em indagações frequentes, que os versos de Chico Buarque de Hollanda, na canção O Que Será (À Flor da Pele), poderiam traduzir:
“O que será que será (...)
Que andam sussurrando em versos e trovas
Que andam combinando no breu das tocas
Que anda nas cabeças, anda nas bocas”.